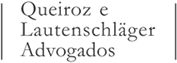27.05.2019 - Segurança jurídica é o desafio do século XXI para a Justiça brasileira
(Ana Pompeu - Revista Consultor Jurídico)
ANUÁRIO DA JUSTIÇA
Por Ana Pompeu
*Reportagem de abertura do Anuário da Justiça Brasil 2019, que será lançado nesta quarta-feira (29/5) no Supremo Tribunal Federal
Em meio a reveses políticos, conjuntura de turbulências e a sociedade em ebulição, entornando um caldo de violência e intolerância, o Poder Judiciário não saiu ileso. Teve decisões questionadas, julgamentos altamente televisionados, virou mote de debates, chegou a ser alvo de ameaças direcionadas a tribunais e seus integrantes. Em termos jurídicos, o tema que atravessou todos os momentos em que o Judiciário se envolveu ou foi envolvido é o da segurança jurídica.

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou mais de uma vez que a questão da segurança jurídica é o grande desafio do Judiciário no século XXI. Ou seja, interpretar e adaptar o texto da Constituição Federal à luz dos nossos tempos para resolver questões de grande complexidade, sejam elas de natureza social, ética, cultural, econômica ou política.
E foi em busca de preservar a instituição do Judiciário que o presidente do STF tomou uma das medidas mais controvertidas de sua gestão. Em março de 2019, Dias Toffoli determinou a abertura de inquérito para apurar a existência de crime na divulgação de notícias fraudulentas e declarações difamatórias contra os ministros da corte e o próprio tribunal. No mesmo ato, designou o ministro Alexandre de Moraes para presidir a investigação. Na mira da iniciativa do presidente estavam tanto integrantes do Ministério Público Federal vinculados à operação “lava jato” quanto comunicadores anônimos das redes sociais empenhados em difamar e ofender ministros e o Supremo.
Aberto com base no Regimento Interno do STF, o inquérito provocou forte questionamento nos meios jurídicos e políticos. Sob a alegação de que o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal e, portanto, é ilegal um inquérito aberto e conduzido pelo STF sem que o órgão tenha sido comunicado, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, decretou seu arquivamento. A determinação do relator, Alexandre de Moraes, de retirar do ar notícia do site O Antagonista e da revista Crusoé, causou nova onda de protestos. Mas não faltaram manifestações em defesa da iniciativa de Toffoli, vista como necessária para a salvaguarda da instituição.

Nesse contexto de resistência jurídica aos avanços tentados pela midiática “lava jato”, por exemplo, o Plenário do Supremo declarou a impossibilidade da condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatórios e começa a firmar posição delimitando o poder punitivo do Estado. Os ministros discutiram o tema por três sessões, em 2018, e definiram que o artigo 260 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição por violar o direito dos cidadãos de não produzir provas contra si mesmos — ou o direito à não autoincriminação.
O artigo está na redação original do CPP, de 1941, mas a prática só se tornou frequente a partir de 2014, com a operação. Desde então, foram 227 conduções coercitivas, segundo o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Em 2017, ele proibiu o uso do instrumento por liminar.
Para Gilmar Mendes, as conduções coercitivas “são o novo capítulo da espetacularização das investigações. O investigado conduzido coercitivamente é claramente tratado como culpado”.
Toffoli afirmou que é chegado o momento de a corte impedir “interpretações criativas”. Lewandowski respondeu à fala do ministro Luís Roberto Barroso sobre o que chamou de “surto de garantismo” do tribunal quando a Justiça começou a quebrar um “pacto oligárquico” ao punir crimes de colarinho branco. A jurisprudência garantista do Supremo, conforme Lewandowski, “não constitui nenhuma novidade, sempre construída a partir de casos de pessoas pobres, desempregadas, subempregadas e de pequeno poder aquisitivo”.
Marco Aurélio reforçou o coro ao sustentar que não se pode partir para o justiçamento, colocando a segurança jurídica em risco e a sociedade em sobressaltos. Para o decano, Celso de Mello, há necessidade de se dar proteção efetiva ao devido processo legal, no sentido de que o processo penal é meio de contenção e delimitação dos poderes dos órgãos de acusação.
O presidente da corte, Dias Toffoli, avalia que todos os impasses que se impuseram no país foram resolvidos pelas vias institucionais, com respeito à Constituição e às leis. Segundo o ministro, nesse período, o Poder Judiciário, em especial o STF, foi o grande árbitro, ao desempenhar papel fundamental nesse processo contínuo de construção da democracia, moderando os conflitos, corrigindo eventuais desvios democráticos e impedindo que contrariedades políticas conjunturais levassem à ruptura do regime constitucional.
Nem todos os analistas políticos e juristas concordam com a posição institucional do presidente da corte. Se alguns chegam a dizer que no país houve uma ruptura democrática, outros são mais contidos, mas não deixam de apontar momentos em que a expectativa em cima dos julgadores foi frustrada, de uma maneira ou de outra. Fato é que é indissociável olhar para o destaque da corte como protagonista político e para a construção jurisprudencial e a confiabilidade da atuação do Judiciário nesse cenário. É fundamental a compreensão de ambos os fenômenos, e de cada um deles, para entender como se influenciam.

Em 2018, num dos exemplos mais emblemáticos, o Supremo optou por julgar o Habeas Corpus preventivo da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a analisar as ações que tratam, de forma abstrata, da possibilidade de execução de pena antes do trânsito em julgado. Assim, adiou o momento de firmar uma tese para dar por encerrada as diferenças de aplicação da norma constitucional.
Na ocasião do julgamento do HC, o relator das ações, ministro Marco Aurélio, chegou a dizer à então presidente Cármen Lúcia: “Venceu a estratégia!” O ministro se referia ao fato de ter liberado para Plenário, no início de 2017, as ações que tratam da execução provisória. Entre essa data e o julgamento do caso de Lula, com repercussões políticas de grande dimensão, o ministro pediu a inclusão delas na pauta plenária. O decano da corte, ministro Celso de Mello, interferiu e quis negociar o assunto com a presidente. Sugeriu um encontro informal para evitar o constrangimento que uma questão de ordem apresentada por algum ministro no Plenário poderia gerar — no que tampouco teve sucesso.
Para além da questão jurídica, a polêmica girou em torno da ministra Rosa Weber. Ao votar, foi categórica. No caso concreto, aplicaria o princípio da colegialidade. No entanto, no controle abstrato, se uniria ao grupo que defende a literalidade da Constituição. O voto dela foi o que formou a maioria para negar a liminar a Lula. Para Cármen Lúcia, no entanto, pautar o mérito das ações antes do HC de Lula seria “apequenar o tribunal”. Na sua opinião, levar o caso ao Plenário seria ceder a pressões para virar o placar a favor de aguardar o trânsito em julgado, uma vez que o tema já havia sido apreciado e votado anteriormente e a execução antecipada autorizada.
Enquanto a decisão não vem, ministros do próprio tribunal seguem dando pareceres diversos. Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski continuam a conceder HCs a presos provisórios condenados no segundo grau — para eles, a Constituição não é “mera folha de papel” e a ela devem respeito. Advogados seguem pedindo que a execução da pena de seus clientes seja revista com base na ausência de uma definição da Corte Suprema e observando, justamente, essas divergências.
No último dia do Ano Judiciário de 2018, a controvérsia voltou à tona. O ministro Marco Aurélio suspendeu a execução antecipada da pena de prisão e mandou soltar todos os que estivessem presos nessa condição. Na liminar, o ministro se disse convencido da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Criticou o uso de “argumentos metajurídicos” para justificar a execução antecipada quando a Constituição não a permite. Entre esses argumentos, os altos índices de violência e de corrupção na sociedade brasileira.
Horas mais tarde, Dias Toffoli derrubou a decisão a pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o presidente da corte, o Plenário é que deverá avaliar o caso. Disse também que pode o presidente, de acordo com o Regimento Interno do STF, a pedido da PGR, admitir a contracautela se demonstrado que o ato impugnado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Toffoli justificou a decisão pela relevância do tema e do potencial risco de lesão à ordem pública e à segurança que a liminar de Marco Aurélio acarretariam.
A possibilidade de o presidente do Supremo suspender a decisão de outro ministro é controversa, mas há precedentes. Em 2018, Ricardo Lewandowski suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que proibia o jornal Folha de S.Paulo de entrevistar o ex-presidente Lula. Liberou a entrevista, como é direito de todo preso, afirmando que a decisão da instância inferior era censura prévia.
No mesmo dia, Luiz Fux, vice-presidente no exercício da Presidência, cassou a decisão do colega. Adicionou, ainda, que, caso a entrevista já tivesse sido feita, não poderia ser publicada. A justificativa era a possibilidade de declarações de Lula influenciarem as eleições, marcadas para dali a um mês. Para Fux, não estava em jogo a liberdade de imprensa, mas a influência da eventual publicação nos resultados do pleito eleitoral. Em abril de 2019, Dias Toffoli autorizou a entrevista.
Esses casos expuseram a desarmonia interna do Supremo a todo o país. Para além das acusações de que teria decidido com base em anseios sociais momentâneos, houve críticas de que faltava coesão que desse às decisões a legitimidade de que eram do tribunal de forma una, não resultado de cabos de guerra internos. Seria, ainda, mais um sintoma da famigerada politização do Judiciário — para além da judicialização de inúmeras questões políticas, um exemplo da atuação política da corte e do peso que ela tem enquanto ator, e protagonista, político.
Já nas turmas é possível observar as diferentes compreensões sobre casos que carregam alta complexidade. Os dois colegiados têm se posicionado de forma diferente quanto à concessão de Habeas Corpus e à aplicação da Lei de Drogas e do princípio da insignificância. A 1ª Turma tende mais ao entendimento de que a punição é também forma de prevenir reincidência e exemplo para que outras pessoas não cometam delitos. Já a 2ª Turma tem propensão maior a valorizar a presunção de inocência, as formas alternativas à prisão e o direito de defesa.

A uniformização dos julgados é preocupação importante também nos tribunais superiores. E os questionamentos quanto à legitimidade e os problemas decorrentes da conjuntura não atingiram apenas a Corte Suprema. O Tribunal Superior Eleitoral teve pela frente as primeiras eleições altamente disputadas nas redes sociais — e as famigeradas fake news. Até mesmo as urnas eletrônicas, consideradas modelo em todo o planeta, foram postas em cheque. Nesse contexto, os três presidentes que a corte teve no ano, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Rosa Weber, tiveram de afirmar e reafirmar a confiabilidade do sistema.
Se o tribunal sabe se defender desses ataques justamente por conhecer o sistema, usado desde 1996, a disseminação de fake news desafiou a corte. Ao mesmo tempo que o Judiciário é um poder reativo, o TSE foi cobrado porque teria sido omisso nesse processo. A avaliação não é consenso, como não poderia ser tendo em vista a proporção da questão, o pequeno distanciamento histórico, o difícil contexto. Além da profusão de notícias falsas, o tribunal recebeu denúncia de que sua propagação não seria tão espontânea: haveria uma máquina de financiamento empresarial por trás, orquestrando temas e formatos a serem viralizados. Pela primeira vez, a doação para partidos e candidaturas por empresas esteve proibida, conforme decisão do STF.
Não bastasse, a Lei da Ficha Limpa continua a provocar a corte sobre quais são os limites da norma, a quem atinge e de que forma. Ela foi o principal motivo de impugnação de registros de candidaturas nas eleições gerais. Durante a apreciação de casos concretos, jurisprudências foram revistas. Mais uma vez num caso sobre Lula, o TSE restringiu o alcance da expressão sub judice, reconhecendo que, após decisão pelo indeferimento do registro de candidatura, deve ser afastada a incidência da norma contida no artigo 16-A da Lei das Eleições, que dispõe que “o candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral”, o que gerou um efeito cascata.
Em setembro de 2018, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, chegou a repreender publicamente o Tribunal de Justiça de São Paulo pelo fato de a corte paulista desrespeitar sistematicamente súmulas do STJ e não conceder Habeas Corpus. O advogado Davi Tangerino afirmou, da plateia do evento organizado pela ConJur para debater os 30 anos da Constituição, que 40% dos HCs do Superior Tribunal de Justiça nascem do fato de o TJ-SP ignorar súmulas, e questionou se seria o caso de reformar o sistema de precedentes.
O STJ tem a missão justamente de uniformizar a legislação infraconstitucional nas instâncias federal e estadual. Evidentemente, a mudança de jurisprudência é possível. Alguns ministros defendem as viradas de entendimento como parte do exercício da magistratura. Decano do STJ, Felix Fischer diz que o juiz tem direito a pensar e, assim, reformar uma decisão.
A ministra Cármen Lúcia já respondeu a crítica semelhante, em questionamentos de que o Supremo Tribunal Federal muda jurisprudências pela alteração de sua composição. “Se isso provoca insegurança jurídica, na crítica formulada por alguns, também se demonstra que o Direito está vivo, experimentando mudanças necessárias para que as leis não se mumifiquem e percam a sua legitimidade”, avaliou.

Mas não se pode ignorar que as alterações podem prejudicar a confiabilidade e a previsibilidade do Direito, além de colocar em risco a atuação da jurisprudência como parâmetro para definição da conduta dos jurisdicionados. No Superior Tribunal de Justiça, é comum encontrar decisões que dizem claramente que o precedente é um, mas o julgador entende de outra forma e vota em sentido diverso. Assim, desconsidera súmulas, recursos repetitivos ou com repercussão geral.
A Justiça do Trabalho também enfrenta a questão, com a reforma trabalhista. Em novembro de 2018, a nova CLT completou um ano de vigência. Com alterações substanciais em mais de 100 artigos, houve mudanças significativas para as relações de trabalho no Brasil ao privilegiar soluções negociadas e exigir mais rigor de trabalhadores que procurarem o Judiciário em busca de direitos.
O TST adiou a decisão de revisar súmulas para adequá-las à nova CLT. O julgamento só deve acontecer depois que os ministros do Supremo decidirem sobre a constitucionalidade do artigo 702, alterado pela reforma, e que regulamenta a edição e a revisão de súmulas e enunciados. Pelo novo dispositivo, o TST ainda não pode adequar as suas súmulas — fato questionado pelos ministros da corte.
Com isso, a revisão da jurisprudência, efetivamente, se dará a partir do julgamento de casos concretos que chegarem por meio de recursos ao TST, de acordo com o presidente da corte, Brito Pereira. O ministro Ives Gandra Martins Filho ficou preocupado com o adiamento. “A sociedade está esperando a adequação da nossa jurisprudência”, afirmou na ocasião.
Logo após a reforma, a quantidade de ações trabalhistas diminuiu de forma considerável. Mensalmente, passava de 200 mil ações recebidas em primeira instância por mês. O número caiu quase 40%. No final de 2018, entretanto, a média de processos distribuí-dos aos ministros do TST havia aumentado em relação ao ano anterior. Analistas afirmam que a queda seria reflexo da insegurança que trabalhadores têm sentido em ingressar com o processo, já que a interpretação por parte dos magistrados, diante das mudanças, é ainda bastante incerta.
Alteração recente promovida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) tratou do assunto. O artigo 23 estabelece que a decisão judicial que alterar interpretação de lei, impondo novo dever, deverá prever regime de transição quanto à sua aplicação. A norma resguarda, de um lado, a possibilidade de alteração do entendimento jurisprudencial, sem descuidar, de outro, da segurança jurídica, da estabilidade das situações já consolidadas e da proteção ao princípio da confiança. Da mesma forma, o novo Código de Processo Civil, no artigo 927, parágrafo 3º, determina que na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos com vistas a resguardar a segurança jurídica.
Ana Pompeu é repórter da revista Consultor Jurídico.
Fonte: Revista Consultor Jurídico, 27 de maio de 2019, 9h00