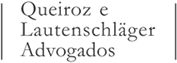13/12/2016 - OPINIÃO - Negociado sobre o legislado passa por emancipação de sindicatos
(Revista Consultor Jurídico, 11 de dezembro de 2016, 8h53)
11 de dezembro de 2016, 8h53
Não é de hoje que os economistas sustentam e reconhecem que a atividade econômica é cíclica, alternando períodos de crise com de desenvolvimento. A crise econômica pela qual passa o país não é só um conceito abstrato, deixa sua marca na sociedade, seja pelo desemprego de mais de 10 milhões de trabalhadores , seja pelo fechamento de milhares de empresas. No campo do Direito do Trabalho, historicamente, existe uma polarização ideológica maniqueísta entre o bem e o mal, entre o capital e o trabalho, como se o sucesso de um não dependesse do outro e como se o mundo complexo pudesse ser reduzido a tons de preto e branco.
Para se ter uma ideia do que chamamos de “capital”, há no Brasil atualmente quase 19,6 milhões de empresas ativas, das quais mais de 56% representadas por empresários individuais e mais de 9 milhões de micro e pequenas empresas. As sociedades anônimas de capital aberto representam 0,16% do total. As atividades de serviço e comércio refletem mais de 86% das empresas. Conjugando-se os dados, percebe-se claramente que o grosso da atividade econômica no Brasil não está nas grandes corporações.
Independentemente da atual condição de crise econômica, a sociedade brasileira vive nas últimas décadas uma explosão de litigiosidade, de forma que passamos dos 102 milhões de processos tramitando na Justiça brasileira em 2015, dos quais 9,3 milhões na Justiça do Trabalho. Em 2015, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 4 milhões de casos novos (14,9% do total), sendo o segundo segmento de Justiça que mais recebeu casos novos, atrás somente da Justiça Estadual (71%).
As causas deste fenômeno são complexas e variadas, passando desde o tratamento individualizado dos conflitos de trabalho que, de regra, são de natureza coletiva, até a falta de coerência da jurisprudência. A legislação trabalhista brasileira segue o padrão de complexidade exagerada dos demais ramos, o que, muitas vezes, se volta contra seu destinatário, pois sabe-se que a maior regulamentação das relações de trabalho não está diretamente vinculada com a melhoria das condições sociais do trabalhador.
Sem desenvolvimento econômico não há geração de emprego para atender a população que aumenta constantemente (atualmente de 206,1 milhões, estimando-se que em 2025 será de 228 milhões) e cuja expectativa de vida cresce aproximadamente 4 anos em cada década desde 1950, passando atualmente dos 73 anos, ficando distante o objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos.
Diante deste cenário e porque no Brasil as soluções são geralmente corretivas, e não preventivas, surgem pacotes de reforma em vários setores da vida econômica e jurídica do país. Não deixa de haver consenso de que o Brasil precisa de reformas nas áreas tributária, trabalhista, sindical, previdenciária, orçamentária etc., mas são lembradas somente nos momentos de crise.
Na seara trabalhista, retoma-se a discussão de reforma, seja por um pacote mais amplo, seja por correções pontuais. Uma delas trata da validade dos acordos e convenções coletivas diante das normas instituídas pela legislação, ou seja, a prevalência do negociado sobre o legislado. Os contrários a esta proposta não deixam de reconhecer a validade da negociação quando as garantias estejam acima do nível de proteção definido na lei, ou seja, ninguém questiona que a negociação para cima é plenamente válida. Assim, não estamos diante de uma nulidade ou falta de validade jurídica da norma negocial por incapacidade dos agentes (sindicatos ou empresa), nem por vício de forma. A análise recai sobre o conteúdo da norma, ou seja, sobre o objeto, que deve ser lícito, possível, determinado ou determinável (Código Civil, artigo 104, inc. II).
Uma passada de olhos na evolução do sindicalismo no Brasil revela que o ideal almejado é de sindicatos fortes, democráticos e representativos, que se movimentem no mundo do trabalho sob os signos da liberdade sindical prevista no caput do artigo 8º da Constituição Federal e na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Contudo, o Brasil ainda não conseguiu se livrar do entulho autoritário do Estado Novo de Getúlio, pois vigoram as regras da unicidade sindical, do imposto sindical, do poder normativo da Justiça do Trabalho e do registro no Ministério do Trabalho e Emprego.
Por isso, a realidade brasileira reflete um cenário com mais de 16,3 mil sindicatos e mais de 2,5 mil pedidos de registro, em busca da receita fácil do imposto sindical, que movimenta mais de 3 bilhões de reais por ano e é pago também pelos não sindicalizados. Temos inegavelmente um deficit de representatividade sindical, apesar da enorme quantidade de sindicatos.
A falta de representatividade deve ser resolvida com a extinção — ainda que gradual — do imposto sindical, da unicidade sindical e do registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego, enfim, pela ratificação da Convenção 87 da OIT e a implantação da liberdade sindical no Brasil. Entretanto, tal condição não afasta o poder negocial dos sindicatos e a validade dos atos que praticarem.
A negociação coletiva e seus instrumentos (convenções e acordos coletivos) são reconhecidos e incentivados pela Constituição, como pode-se inferir dos incisos VI, XIII, XIV e XXVI do artigo 7º. Ademais, ainda que a reforma sindical iniciada com a Emenda Constitucional 45 não tenha sido concluída, fica claro que a negociação coletiva é a forma prevalente de resolver os conflitos coletivos de trabalho, pois, somente se frustrada, as partes poderão eleger árbitros (CF, artigo 114, § 1º). No § 2º do mesmo artigo, o ajuizamento de dissídio coletivo só pode ocorrer quando houver recusa de qualquer das partes e, ainda assim, de comum acordo, sendo possível o ajuizamento pelo Ministério Público do Trabalho somente no caso de greve em atividade essencial. É evidente, então, que a Constituição, ao restringir o ajuizamento de dissídio coletivo, procurou encaminhar a solução dos conflitos coletivos para a negociação coletiva, sendo a greve o instrumento constitucionalmente previsto para forçar sua realização.
A questão que se coloca é se a falta de representatividade dos sindicatos, que é um fenômeno metajurídico, condiciona, modula ou afasta as normas constitucionais garantidoras da negociação coletiva e seus instrumentos.
Entender que a validade plena da autonomia coletiva privada somente ocorre se — e quando — o sindicato for legítimo represente da categoria, gera a comodidade de nunca buscar a representatividade, pois poderá, como ocorre na prática, fazer a negociação e, passo seguinte, entrar com ações individuais e/ou coletivas para buscar a anulação de cláusulas que entende afrontar a garantia legislada. Na negociação as partes fazem concessões recíprocas, mas depois o sindicato busca o melhor dos dois mundos. Sem assumir as consequências positivas e negativas da negociação coletiva, os sindicatos não alcançaram a desejável maturidade para, legítima e democraticamente, representar os interesses dos trabalhadores.
Pela omissão do movimento sindical e do Poder Legislativo, a Justiça do Trabalho é cotidianamente instada a decidir milhares de causas em que se discute a validade da negociação coletiva, normalmente aplicando o entendimento de que sua validade fica condicionada ao respeito das garantias legisladas. Contudo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de prevalência do negociado sobre o legislado, ao julgar o Recurso Extraordinário 590.415. Neste julgado, adotou-se o pressuposto de que, no âmbito da negociação coletiva, não se verifica a condição de hipossuficiência típica das relações individuais, razão pela qual a autonomia coletiva da vontade deve ser plenamente validada.
Tal decisão do STF impõe novas reflexões e redefine o norte jurisprudencial que a Justiça do Trabalho deve seguir a partir de então.
Em síntese, a almejada autonomia do poder negocial dos sindicatos (autonomia coletiva privada) e a liberdade sindical, necessários para a existência de sindicatos fortes, representativos, democráticos e legítimos, se dará na medida do exercício responsável desta fundamental função sindical, cabendo ao Estado garantir as condições necessárias para tanto. O desenvolvimento, contudo, é dialético entre a realidade e a condição desejada.
É preciso sublinhar que a função do sistema de Justiça, assim entendido todos os seus elementos, e não somente o Poder Judiciário, é dar cumprimento aos objetivos fundamentais da República brasileira (CF, artigo 3º), como parte da infraestrutura necessária para constituir um ambiente negocial com segurança e previsibilidade para quem investe, empreende e trabalha.
Alexandre Luiz Ramos é desembargador do TRT-SC, mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e professor convidado Permanente da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina.
Fonte: Revista Consultor Jurídico, 11 de dezembro de 2016, 8h53